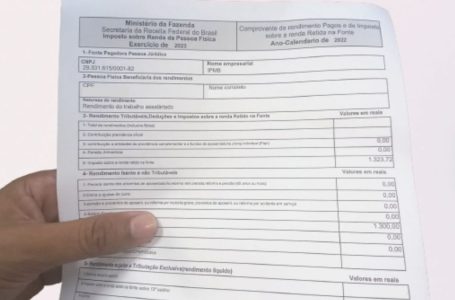Revista Nova Escola: ‘Negro, sempre!’: A luta de Clarice Pereira contra o racismo e pelos ‘desejos e direitos’ dos alunos
Foram mais de três décadas dedicadas às escolas de seu bairro em Salvador, ao movimento antirracista e à miltância política e sindical

“Se eu pude, vocês também podem”, dizia Clarice aos alunos de Nordeste de Amaralina, em Salvador. Ilustração: Marcella Tamayo/NOVA ESCOLA
Por WILLIAN VIEIRA
Todo 20 de Novembro, Dia da Consciência Negra, os alunos da escola municipal Teodoro Sampaio, no Nordeste de Amaralina, em Salvador, celebram o Festival da África com a pompa devida: apresentações, exposições e seminários. E, ano após ano, Clarice Pereira dos Santos visitava a instituição onde estudara décadas antes e na qual lecionara, para falar àqueles jovens sobre a luta do povo negro — e sobre como não desistir jamais. “Somos uma escola de periferia, num bairro pobre, com 99% dos alunos negros”, diz a diretora Maria de Lourdes Torres. A evasão é alta, a falta de perspectiva grassa. “Mas Clarice foi fruto desse mesmo contexto e venceu na vida, era um exemplo para a comunidade”, diz. “Eles a ouviam com respeito. Se uma mosca passasse, a gente ouvia a mosca. Você já viu 200 adolescentes num galpão quente ficarem em silêncio? Pois é.”
A essência desse bate-papo com os jovens era sempre a mesma: “superação”. Clarice tinha uma história para contar. A dela. Mulher preta nascida na pobreza de uma cidade “que sempre viveu e ainda vive um apartheid social”, diz o companheiro, Valdir Estrela, ela crescera na comunidade do Vale das Pedrinhas, no mesmo complexo do Nordeste de Amaralina, só que mais pobre e com menos perspectivas. A polícia já entrava sem licença e com brutalidade. “Na época não tinha saneamento, quando chovia era lama e esgoto a céu aberto”, diz Valdir. “Não havia água encanada, ela ia buscar na fonte. Não tinha ônibus, não tinha nada. E ela nunca desistiu.”
Clarice nunca pisara num cinema, sequer tinha em casa uma televisão. O pai era pedreiro e carpinteiro, a mãe vendia cocadas e fazia faxinas nas casas dos ricos — o bairro, esquecido pelo Estado, já era cercado de áreas “nobres”. Mais velha de cinco irmãs, desde pequena cuidava das meninas e da casa. “O pai fez um banquinho pra ela poder lavar louça na pia e roupa no tanque.” Os livros precisavam durar cinco anos letivos, para todas usarem: não havia como comprar outros. E era ela a ensinar às meninas as tarefas da escola — a mesma Teodoro Sampaio onde hoje os jovens a olhavam, limpando o suor da testa, em busca de inspiração para dias melhores.
Ao olhar para os adolescentes apinhados no galpão, ela dizia sem pestanejar que fazer a faculdade foi difícil (ela só conseguiu depois dos 40 anos, enquanto dava aulas o dia inteiro), mas era possível se eles acreditassem. E explicava que sempre precisou se provar mais que os outros, os brancos, a vida inteira — sempre teve de ser mais competente que todos, sobretudo os homens, para conseguir um lugar ao sol. “Mas se eu pude, vocês também podem, era sempre a mensagem dela”, diz Lurdinha. No fim, olhava ao redor e dizia sua frase: “Negro, sempre!”
Quando decidiu cursar o magistério, ainda durante a ditadura, já sabia que sua luta não seria apenas no quadro-negro. Clarice começou a lecionar numa escolinha da comunidade, enquanto já fazia parte da militância contra o regime militar. Dividia as aulas com as reuniões da associação de moradores e as do partido que integrava. Mesmo depois de ter feito o concurso para a rede municipal de ensino, e depois o da estadual, dando aulas de manhã, de tarde e de noite, para crianças, jovens e adultos, arrumava tempo para participar do movimento antirracista. Foi uma das fundadores do núcleo da União de Negros Pela Igualdade (Unegro) no bairro. “E foi quem conseguiu a sede”, diz Valdir. “O aluguel foi pago com o salário dela.” Clarice era mulher de resolver, não de titubear. Se o evento da Unegro precisava de comida, ela passava a noite cozinhando em panelões a famosa feijoada ou caruru, diz Valdir. “Era uma exímia cozinheira. Então a presença no evento era garantida.”
Clarice fazia de tudo para coibir a evasão, sobretudo ao ensinar para jovens e adultos. “Organizava até jantares para incentivar a presença”, conta Rosemery Teixeira, amiga de infância e colega de profissão. “Ela punha uma caixinha, cada um dava o que podia. No fim abria, não tinha muito, botava dinheiro dela e valia à pena, porque nas turmas dela não tinha evasão.” Nas turmas dos mais pequenos, “sua sala era a mais enfeitada, até uma geladeira ela levou uma vez”, lembra a amiga. “Tinha muito brinquedo, que ela conseguia com doações, ou pagava ela mesma. Sua aula era uma festa.” Ao ensinar crianças mais velhas, tentava trazer o conteúdo para a realidade e incentivá-los a pensar grande.
Mas como ensinar empoderamento quando há fome? “Ela sofria muito com a situação que encontrava no dia a dia”, diz Valdir. “Chegavam na escola crianças que passavam por violência doméstica, tinham pais alcoólatras. Ou tinham fome. Para muitas, a primeira refeição seria a merenda.” Então ela caprichava: conquistava doações de pão na padaria e de quiabo e coentro na feira, porque a comida tinha de ser apetitosa. Se precisasse, claro, botava dinheiro do bolso — “importava levantar a autoestima daquelas crianças”.
Por duas décadas na escola municipal Santo André, Clarice foi professora e diretora. Por muitos anos organizou um misto de passeata e cortejo cultural no dia 20 de novembro que saía da escola, muitas vezes com carro de som, blocos afro de percussão, e alunos de escolas da região. “Meninas pequenas usavam os penteados tradicionais, os meninos se vestiam com trajes africanos, até as bonecas eram enfeitadas”, conta Rosemary. Microfone na mão, Clarice passava a pauta da luta antirracista: um sim à equidade de direitos e oportunidades, um basta ao silêncio em relação à brutalidade policial contra o povo preto. “Negro, sempre!”
Clarice deixara a sala de aula para se dedicar ao sindicato, a Associação dos Professores Licenciados do Brasil “Mas não ficava parada na sede atendendo telefone”, diz Maria de Lourdes. “Ela percorria as escolas do bairro, conhecia cada professor, ia entender quais os problemas para ajudar.” Foram mais de três décadas dedicadas às escolas do bairro, ao movimento antirracista, à miltância política e sindical — e à convencer aqueles alunos a seguirem os estudos, a acreditarem que eram cidadãos “com direitos e desejos”.
Uma história de luta só interrompida pelo coronavírus. Clarice passou meses doando cestas básicas e máscaras pela comunidade. Morreu dia 22 de junho de covid-19. Mas sua memória jamais será esquecida. Uma rua com seu nome deve surgir em breve no bairro em que nasceu. E, mais importante: a creche do Vale das Pedrinhas talvez leve seu nome. Inaugurada pela prefeitura dois anos atrás com o lema “Antes lixão, hoje educação” — quando chovia, o lixo e a lama tomavam o bairro –, a escolinha foi uma luta da comunidade, sobretudo de Clarice. Um vereador tomou a iniciativa, e os moradores se uniram em campanha. Se tudo der certo, os pequenos retornarão às aulas depois da pandemia no CMEI Professora Clarice.
O texto acima integra a edição especial de Nova Escola Box “Vida, saudade e legado: os educadores que partiram em 2020”. Durante o mês de outubro, vamos contar a história de dez grandes educadores e funcionários que inspiraram alunos, colegas e cidades ao longo de suas vidas, interrompidas, infelizmente, pela covid-19. É nossa forma de dizer “muito obrigado” pelas lições deixadas dentro e fora de sala de aula e lembrar aos que seguem a vocação de lecionar o poder transformador da Educação para tantos brasileiros, muitos deles em luto por perdas humanas inestimáveis.